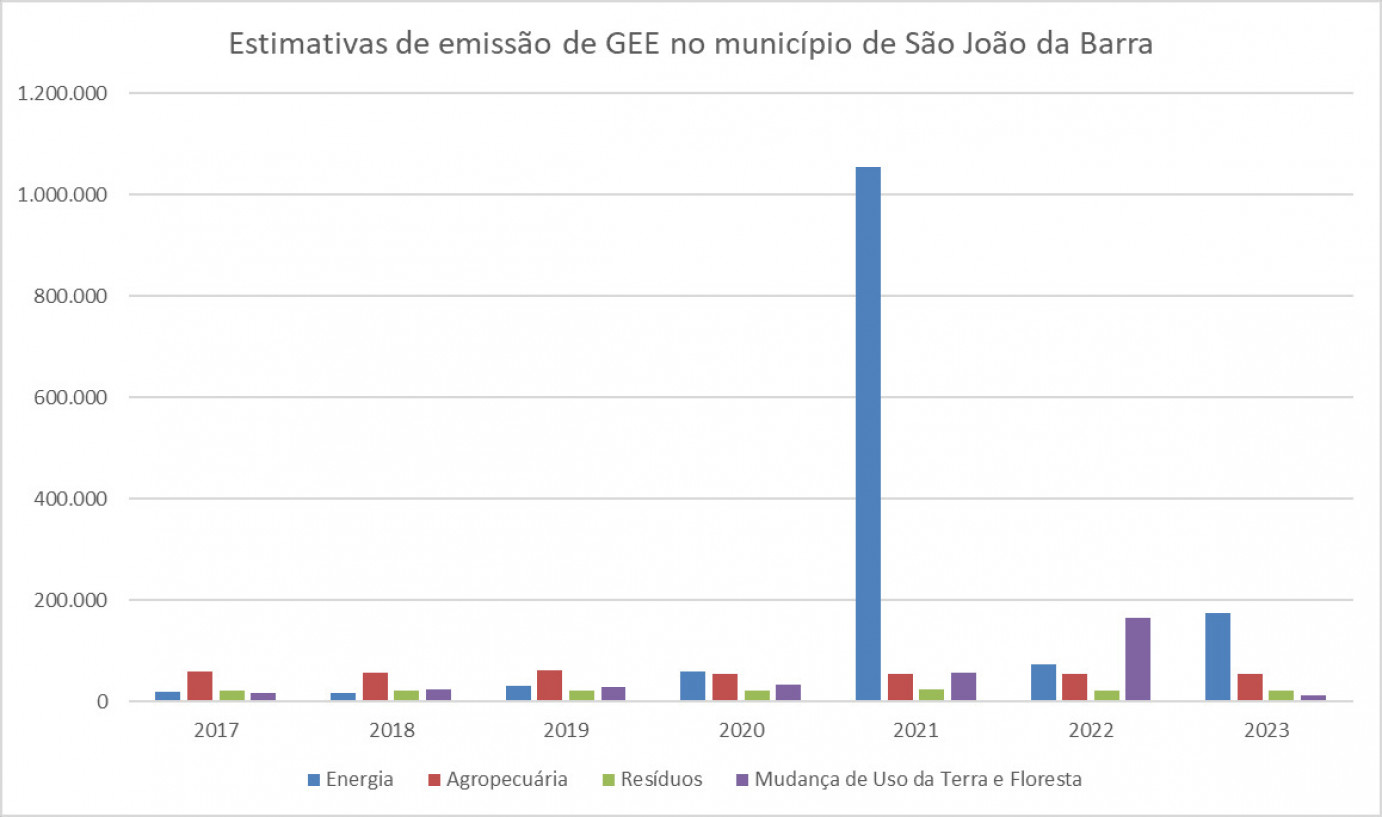O que se pode dizer sobre a potencialidade da agricultura familiar campista para fornecer alimentos mais saudáveis, frescos, pouco processados e nutritivos para a merenda escolar local? Como se sabe, desde 2009 a lei federal 11.947 exige que pelo menos 30% dos produtos voltados à merenda escolar sejam adquiridos da agricultura familiar, o que coloca comida de qualidade no prato de milhões de crianças, adolescentes e adultos da educação básica e melhora a renda familiar de pequenos agricultores nos mais de 5 mil municípios do país. Até onde iria nossa capacidade de nos beneficiar, em Campos dos Goytacazes, do cumprimento dessa norma?
Segundo o Censo Agropecuário de 2017/2018 do IBGE , Campos possui 7.789 estabelecimentos agropecuários, sendo praticamente dois terços (63,8%) pertencentes à agricultura familiar. Entre esses, destacam-se 1.093 famílias assentadas da reforma agrária, distribuídas em dez assentamentos rurais (Josué de Castro, Dandara dos Palmares, Che Guevara, Ilha Grande, Zumbi dos Palmares, Terra Conquistada, Oziel Alves, Antônio de Farias, Santo Amaro e Novo Horizonte), além do Cícero Guedes, que está em processo de legalização. Cabe ressaltar que os assentados da reforma agrária e as comunidades quilombolas têm prioridade na venda de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), conforme estabelecido pela legislação.
A última chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em Campos dos Goytacazes ( Diário Oficial de 05/09/25, página 3 ) evidenciou, por meio dos projetos de venda (propostas formais apresentadas por agricultores familiares, de forma individual ou em diferentes arranjos coletivos), o potencial desses agricultores para contribuir com o fornecimento de alimentos mais saudáveis, frescos e nutritivos para compor as merendas das escolas municipais. Dos R$ 972 mil previstos no edital, cerca de 51,1% foram destinados a 29 agricultores locais, muitos vindos de diferentes assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e outras localidades, responsáveis pelo fornecimento de frutas, legumes e ovos caipiras.
Importante destacar que o funcionamento do PNAE em Campos depende de constante articulação entre diferentes órgãos públicos: as secretarias municipais de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) e de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura (Semapi); o escritório local da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, vinculada ao governo do estado); e o Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Esses órgãos têm papéis complementares na execução do programa, incluindo a identificação dos alimentos produzidos localmente, a elaboração e divulgação dos editais bem como a prestação de esclarecimentos sobre as regras aos agricultores interessados. Também depende da articulação entre esses órgãos a elaboração dos projetos de venda, o acompanhamento das entregas, a fiscalização da qualidade da merenda escolar e o pagamento dos agricultores.
O bom funcionamento dessa engrenagem não é algo trivial; mas as ações conjuntas começam a dar sinais de vitalidade. Trata-se de uma construção coletiva e trabalhosa, na qual persistem entraves operacionais. Um deles é a irregularidade na entrega dos produtos pelos agricultores sem uma justificativa prévia, o que possivelmente esteja relacionado à dificuldade dos agricultores em planejar a produção para cumprir os prazos estabelecidos, devido às oscilações climáticas repentinas, à ausência na regularidade das datas das publicações dos editais pelo poder público e, até mesmo, à falta de planejamento do próprio agricultor para realizar a entrega na data prevista. Também ocorrem dificuldades quanto à emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), ainda que o processo tenha ficado menos dificultoso e menos moroso após a habilitação da Emater local para emitir esse documento.
Há, ainda, problemas com a regularização fundiária, o correto entendimento dos agricultores quanto às exigências burocráticas e questões relacionadas à assistência técnica. Outro entrave evidente no município é o fator da desconfiança, presente entre os próprios agricultores, que dificulta a formação de cooperativas e/ou associações. Essas organizações formais coletivas auxiliariam no planejamento, na coordenação e na distribuição da produção entre os agricultores. Elas evitariam a escassez ou excesso de produtos e facilitariam o cumprimento dos prazos e quantidades solicitados. Esses grupos também têm prioridade sobre os grupos informais nos critérios de seleção do Programa. Trata-se de um aspecto que merece atenção especial, por se configurar como um dos principais entraves ao fortalecimento da participação dos agricultores no programa.
Enfim, os desafios são muitos, pois são múltiplas as necessidades dos agricultores familiares no que se refere ao seu financiamento, apoio logístico/técnico e sua carência em capacitação e organização associativo- cooperativa. A articulação entre o Pnae e esses agricultores depende de uma logística adequada, desenvolvida pelas gestões municipais para as escolas que administram — portanto, depende do esforço político dos municípios, pois é no nível local que a política se implementa. E, no caso de Campos, a chamada pública de 2025 deixa uma lição: há, sim, potencial para uma maior inserção de alimentos mais saudáveis, frescos, minimamente processados, nutritivos — a chamada comida de verdade — nas merendas escolares.
Lohana Chagas de Almeida é doutoranda do Programa de Pós- graduação em Sociologia Política da Uenf e pesquisadora assistente no Núcleo Norte Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles.
Lohana Chagas de Almeida é doutoranda do Programa de Pós- graduação em Sociologia Política da Uenf e pesquisadora assistente no Núcleo Norte Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles.
Daniete Fernandes Rocha é doutora em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela UFMG, pesquisadora colaboradora na UFMG, docente no Centro Universitário Arnaldo Janssen e pesquisadora no Núcleo Norte
Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles.
Fluminense do INCT Observatório das Metrópoles.
Mauro Macedo Campos é doutor em Ciência Política pela UFMG, professor do curso de Administração Pública e da Pós-graduação em Sociologia Política da UENF e pesquisador no Núcleo Norte Fluminense do Observatório das Metrópoles.