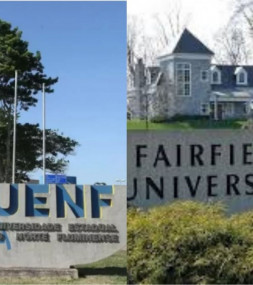O que definirá as eleições de 2026 — quais serão os candidatos e como eles se apresentarão — depende de um jogo de poder complexo e constante. O eleitor tem o poder democrático de escolha, mas a questão é que ele se dá a partir de uma cartela de opções definida por partidos políticos e por quem detém o poder real — acumulado ao longo de eleições passadas.
Qual a escolha mais importante, presidente e governadores ou deputados e senadores? Será uma eleição polarizada e apertada? Ou surgirá uma “terceira via” com votos o bastante para desequilibrar o jogo? O Congresso ficará com a direita, com a esquerda, ou dominado pela extrema-direita?
O voto para o executivo e legislativo não se equivalem em peso simbólico. A presidência da República carrega o imaginário do poder, o carisma do “líder nacional”. Governadores, embora mais raro, também encarnam esse papel nos estados. Mas são deputados e senadores que moldam, silenciosamente, a arquitetura do poder, em um país que criou um “presidencialismo de coalizão” e mais recentemente um “orçamento secreto” que dá muito poder ao Congresso.
A quantidade de recursos disponíveis no Congresso e a grave crise institucional que o Brasil se meteu, deixarão as disputas pelo Senado e Câmara acirradas e determinantes para os projetos de poder em curso.
Senado como praça de poder da extrema-direita
O voto no Executivo é um ato quase emocional, narrativo, de identidade. O voto no legislativo, na maioria dos casos, é marcado pela invisibilidade — muitos sequer se lembram em quem votaram. O resultado é uma distorção estrutural, onde o eleitor escolhe quem governa, mas tende a ignorar quem estará no jogo político com uma quantidade determinante de cartas na mão.
Os jogos de poder dependem de bastiões — muros e trincheiras de contenção para as ações dos oponentes políticos que estejam mais fortes. Para a extrema-direita brasileira, construída e fortalecida a partir do advento do bolsonarismo, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi o bastião para suas pretensões mais ousadas de poder.
Em 2020, quando Bolsonaro tentou impor uma “vida normal” aos brasileiros em uma das pandemias mais mortais da história recente, o STF garantiu a autonomia de prefeitos e governadores para determinarem medidas de isolamento. Em 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia blitz buscando impedir que eleitores do Nordeste votassem, ou não desobstruíssem as rodovias tomadas por caminhoneiros, lá estava o Supremo agindo. Quando tentaram dar golpe de Estado, a Corte de novo.
Não é gratuito que o Supremo seja eleito como o inimigo principal do bolsonarismo e da extrema-direita. A Corte — cometendo ou não excessos, agindo ou não em autopreservação e atitudes suspeitas — esteve na linha de frente da contenção autoritária de poder. Além da necessidade de ser combatido no jogo de poder, se mostrou como elemento de união da extrema-direita eleito como inimigo número um.
E onde é a única praça de poder possível de ser o STF combatido? O Senado Federal.
O único caminho
Conquistar a maioria no Senado é a primeira tarefa do bolsonarismo. Como todas as pesquisas sérias apontam, a eleição presidencial é um sonho distante e quase impossível. Portanto, vencer no legislativo não apenas mantém a extrema-direita ativa como abre a possibilidade de interferir no Supremo.
Ao que vem demonstrando, nas escolhas que tem feito, Bolsonaro, ainda como líder de um movimento de massa, não pretende conquistar a presidência em 2026, e sim controlar o Senado e parte da Câmara para poder colocar em prática um plano de poder de longo prazo.
Executivo deve governar com o legislativo eleito
Porém, é da democracia. Não se pode reclamar da “qualidade” dos parlamentares eleitos, justamente por estarem lá por decisão popular, em eleições limpas e diretas. Respeita-se a vontade do eleitor; e pronto. Questionar o sistema que acaba permitindo essa composição no legislativo é necessário, mas enquanto isso não acontece, é preciso conviver com o Congresso que temos.
E, convenhamos, não vem do legislativo todo mal da política brasileira.
As eleições de 2026, portanto, não serão decididas apenas nas urnas do Executivo, mas no silêncio das urnas do Legislativo. Enquanto o debate público se concentra em nomes, slogans e carismas, o poder real pode estar sendo reorganizado em outro tabuleiro — menos visível, porém mais duradouro.
O risco não está em quem vencerá a Presidência, mas em quem terá força suficiente para limitar, constranger ou paralisar o sistema de freios e contrapesos. Democracias não morrem apenas por golpes explícitos; muitas vezes, definham pela normalização do jogo duro institucional.
E é nesse ponto que o eleitor, mais uma vez, será chamado a decidir se quer apenas escolher um governante — ou assumir a responsabilidade pelo regime que ajudará a sustentar.